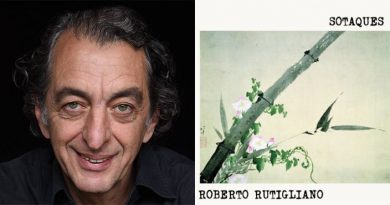O Olhar Detido de Ernesto Jodos
Pianista e compositor, Ernesto Jodos nasceu em Buenos Aires em 1973. Começou seus estudos musicais aos onze anos. Conseguiu uma bolsa de estudos na Berklee School em Boston, Estados Unidos. Alí se aperfeiçoou com grandes mestres, tais como Marc Copland e Ed Bedner. De volta à Argentina, começou a levar adiante suas atividades como pianista, compositor e líder de grupos e em realizar projetos musicais, que o levaram a se tornar numa das grandes referências do jazz na Argentina
Sua discografía solista compreende trabalhos em diferentes formatos. Entre eles, se destacam: A pesar del diablo (1997), Ernesto Jodos Sexteto (2000), Long Ago (2000), Cambio de celda (2001), Solo (2004), Perspectiva (2005), El jardín seco (2009), Fragmentos del mundo (2011), Light Blue (2012), Actividades constructivas (2014) y Relojeros (ya no quedan) (2016), entre outros.
Ernesto Jodos apresenta seu último trabalho: ‘La Mirada Detenida’
Fernando Ríos, 21/05/2019, para o site www.argentjazz.com.ar
Buscando uma nova sonoridade, Ernesto Jodos produziu um trabalho único: “La mirada detenida”. É o primeiro álbum de seu novo quarteto, que inclui a excelente participação do clarinetista Inti Sabev. O título se torna um paradoxo. “La mirada detenida”, fala justamente de um músico inquieto, daqueles que não se resignam à sua zona de conforto e buscam novas possibilidades expressivas. Com seu novo quarteto, que compõem Inti Sabev clarinete, Maxi Kirszner no baixo e Carto Brandán na bateria, o pianista desenvolve uma bela e profunda música, assentada em uma nova sonoridade cheia de tons e cores.
Entrevista
Fernando Ríos – Sem querer estabelecer um ranking ou algo assim, os seus trabalhos mais recentes são aqueles que mais gosto em sua discografia. Eu acho que eles estão entre os melhores …
Ernesto Jodos – Eu também acho o mesmo (risos) … Eu acho que os últimos álbuns vão em uma direção que eu tenho na minha cabeça desde há muito tempo, mas nem sempre conseguia cristalizar. Por outro lado, eu sou um músico que estuda o tempo todo.
FR – Como surgiu a ideia ou a necessidade de introduzir um clarinete em seu grupo, à sua música?
ER – Eu sempre ouvi muita música com clarinete. De Jimmy Giuffre com Paul Bley, Marty Ehrlich, Michael Moore ou Ben Goldberg, que descobri aqui em Buenos Aires, quando ele veio pela primeira vez com Myra Melford. E eu conheci Inti no Conservatório e o que aconteceu foi que quando comecei a fazer as primeiras coisas com ele, senti que o som estava organizado na minha cabeça. E a partir daí trabalhamos muito. Nós tocamos muito do meu repertório, algumas novas outras nem tanto. Fizemos shows inteiros com músicas de outras pessoas, como Thelonious Monk e Duke Ellington. Junto a isso começou a aparecer música especialmente criada para esta formação. E lá se foi abrindo outro caminho …
FR – Você não escolheu Inti só por causa de uma questão de cor musical …
ER – Sim. Claro que há a questão da instrumentação. Mas isso não quer dizer que teria ficado bom, independente de quem fosse tocar clarinete. Em relação ao Inti, foram duas questões. A primeira é como ele toca, mais além do seu instrumento. E a segunda é porque ele toca clarinete, que era o instrumento que eu queria adicionar. Aqui há muitos músicos que tocam clarinete, às vezes como segundo instrumento depois do saxofone. Mas Inti é um clarinetista em tempo integral e ele também está totalmente envolvido nessa música, na improvisação …
FR – E o que ele adicionou à sua música, ao seu grupo?
ER – Leveza. Leveza na música. Isso não é uma crítica, mas a ideia do solista com um instrumento de sopro na frente da banda, com esse tipo de energia, não era o que eu queria. O clarinete pode fazer isso às vezes, mas também tem que fazer outras coisas. Com as dinâmicas, com o espaço. A mim, me encanta como isso afeta o piano. Também faz a todos tocarem de forma muito diferente; embora eu entenda o grupo como uma formação que não é acústica, mas sim como um grupo eletroacústico.
FR – Como isso aconteceria?
ER – Eu entendo que o jazz desde os anos 60 é uma música eletroacústica. O contrabaixo sem amplificação não funcionaria. Devido à evolução do papel do instrumento e a mudança de cenário. Aqui, a amplificação é bem vinda, porque o contrabaixo pede mais coisas. Mais clareza em certas situações, que se não for amplificada, não será ouvida. E o clarinete também. É por isso que penso nisso como algo eletro-acústico. Inclusive para que não se percam muitos aspectos relacionados à partitura. Ou para que o baterista possa tocar com um certo nível de energia. Essa ideia funciona para mim …
FR – No álbum, há duas versões de “La orilla de tu cielo”, uma em trio e a outra em dueto. O que te motivou a fazer isso?
ER – É uma questão prática. Esse é um assunto muito antigo. Nós tocamos no quarteto. E eu senti que, para um show ao vivo, tudo bem, mas para um disco ficaria longa a gravação; mas se encurtasse, ficaria melhor. Então fiz duas versões, uma em trio e outra com clarinete, mas sem o baixo e a bateria. No fundo, eu sabia que iria usar as duas. É um tema simples, mas eu gosto.
FR – Mas soa diferente nas duas versões …
ER – Sim, claro. Quando a melodia é tocada, Inti soa diferente. Não só por causa do som, mas porque ele interpreta de uma maneira diferente. Como eu estava dizendo, é uma música muito antiga, que eu toco com frequência. Eu toquei sozinho no piano, com os grupos e até em situações informais;ela faz parte do meu repertório. Eu gosto do estilo dessa música, mas nunca a tinha gravado.
FR – É uma pena, mas muitas vezes você continua compondo e deixando para trás temass interessantes que não merecem ser esquecidos ou que poderiam ter uma nova leitura …
ER – Eu, às vezes, recorro a temas já gravados. “Perspectiva”, por exemplo, está em dois discos. Mas eu acho que vou deixando as coisas no caminho por causa da ambição de continuar fazendo as coisas. A pergunta seria quando parar de compor e começar trabalhando o que já tenho… Por exemplo, o songbook mais importante de Monk está no catálogo Blue Note. Praticamente a coisa mais importante está lá, não o que ele fez nos últimos 15 ou 20 anos. E também há músicas incríveis que ele nunca tocou novamente ou muito raramente. Algo semelhante pode ser dito sobre o songbook de Bill Evans … assim como eu acho que aqui há também um problema técnico.
FR – O que seria?
ER – Se você tem temas que lhe dão uma estrutura harmônica e formal para improvisar, quanto mais anos, mais você o conhece. É por isso que as pessoas tocam standards. Porque Lee Konitz toca “Alone together”? …é porque ele toca há 70 anos. Então, o que ele pode fazer com “Alone together” tem a ver com os 70 anos que o cara tem o tema dentro dele. Mas quando você escreve música onde a improvisação não tem nada a ver com a estrutura da música, você não vai ganhar nada tocando por 20 anos. Embora também, como eu estava dizendo, tem algo de ambição. Se você tem um novo grupo, você vai gravar um álbum, então você vai compor novas músicas.
FR – E como é você como compositor? Tem uma rotina nisso?
ER – Escrevo pouco e devagar. Teve uma época em que compunha e tocava muito. Agora eu escrevo pouco e toco pouco. Eu gosto muito de estudar piano. Tocar piano na minha casa. Mas escrever é algo que me acontece às vezes. Eu sinto que nos últimos três ou quatro anos, o piano se tornou muito importante para mim. O piano com suas possibilidades. Explorar, eliminar gestos que eu não queria que estivessem no momento de improvisar. No momento de improvisaré uma situação muito agradável, não de ficar pensando. Mas há muitas coisas que saem automaticamente. E você trabalha que essas coisas não apareçam. E isso leva um tempo. É todo um trabalho que eu desenvolvo em casa.
FR – Voltando ao disco: você estava falando sobre a importância da presença do clarinete. Isso é algo que surge “naturalmente” ou é um recurso gerado a partir do encontro?
ER – É algo que me permite fazer coisas que em outra situação eu não poderia, mas gostaria de fazer. Isso me permite evoluir para um lugar que eu quero ir … basicamente é isso.
FR – De certa forma, o clarinete também toma o centro do palco, muitas vezes à custa do piano …
ER – É algo que não me incomoda. Eu gravei dois discos de piano solo. Isso já é muito importante. Mas quando é o grupo, é o grupo. O som anda por aí. Eu entendo o que você diz. Eu me lembro quando eu lancei o primeiro álbum do sexteto, todos eles disseram “o primeiro álbum de um pianista em sexteto”. E qual é o problema? … Naquele momento eu estava interessado no que eu poderia escrever para essas vozes e era difícil para mim saber o que eu ia fazer no meio …
FR – Parece ser um velho costume profundamente enraizado no jazz, o de sempre procurar o “dono” ou um líder para o grupo.
ER – É uma ideia tradicional no jazz. Sempre o grupo pertence a alguém. É um mau hábito, mas faz sentido. Porque no jazz (e estranhamente, porque é música supostamente muito democrática) há sempre um líder. Eu acho que isso tem a ver com duas coisas. Uma, com o modo como a música evoluiu, onde muitas das mudanças têm a ver com alguém que as liderou e a outra com o negócio. Antes costumava ser que o negócio do jazz precisava de um líder. Como disse Paul Bley, “o público precisa de alguém que esteja no comando”. Hoje em dia, talvez não seja mais assim …