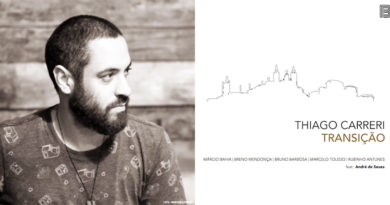Brad Mehldau Trio em Ação no Porto por Bruno Aguiar
Precisei esperar dezessete anos para rever o Brad Mehldau Trio em ação. A primeira vez que o vi “ao vivo” foi em 2006 num concerto – de uma série de três – realizado no Auditório Ibirapuera, São Paulo. A memória, por ser viva, pode ser traiçoeira e nos desorientar com miragens em suas inúmeras paisagens, contudo tenho a sólida lembrança de ficar de pronto impactado pela coesão do trio. Uma coesão que começava já na forma como os músicos se dispunham no palco:
muito próximos, com o piano à esquerda, o contrabaixo ao meio e a bateria imediatamente à direita. Parecia um núcleo, o arranjo mais elementar de um organismo vivo, ou, como gosto de pensar, um coração pulsante, haja vista a vitalidade e o influxo do manancial sonoro que movimentava profusamente.
Musicalmente, eram três elementos que se complementavam sem brechas para hesitações, desencontros ou “notas erradas”. Brad Mehldau equilibrava as prerrogativas de bandleader, apontando o caminho a ser trilhado pelo combo, e a função de pianista virtuoso, porém sensível, nunca abrasivo, alternando a abordagem contrapontística que o marcou com um comping ativo, reativo e criativo, ora sinalizando o espaço sônico da forma, ora partindo do material musical para explorações improvisadas que encadeavam um mar sem fim de argumentos. Já Larry Grenadier, um contrabaixista descendente da escola de Oscar Pettiford, mantinha-se firme como um centro gravitacional a segurar tudo, sustentando harmonicamente as improvisações de Mehldau e complementando ritmicamente os padrões erigidos pela bateria.
Por sua vez, Jeff Ballard, o novato do trio, o baterista que teve a difícil tarefa de substituir Jorge Rossy, o aclamado instrumentista do combo original de Mehldau responsável pela “tratadística” (chamar de “coleção” é muito pouco) The Art of the Trio, produção discográfica que assegurou a presença do pianista de Jacksonville no epicentro do jazz internacional, não deixou por menos: irrequieto e multidirecional quando a música pedia, delicado e intimista quando o contexto exigia, capaz de conjurar o mais “quente” e balançado straight ahead e o mais profundo e introspectivo brushwork, o baterista mostrou-se a escolha perfeita para fechar a tríade.
De todo modo, era uma formação muito recente. É certo que no ano anterior haviam lançado o excelente Day is Done (um de meus preferidos na discografia do Brad), mas “era muito pouco tempo para os caras tocarem tão bem juntos”, pensava. Se cronologicamente tinham poucos anos (dois, no máximo), musicalmente parecia uma vida.
Do repertório dessa longínqua noite de 2006, lembro-me de Mehldau sussurrando o andamento (uptempo) para iniciarem “Artis”, um tema do pianista gravado no mencionado ‘Day is Done‘, e de uma interpretação matadora de “O Que Será”, de Chico Buarque, canção que eles posteriormente acabaram gravando para o álbum duplo Brad Mehldau Trio Live, lançado dois anos depois, sem a mesma intensidade que ouvira na ocasião, entretanto. Saí do Auditório Ibirapuera me perguntando quando (ou se) teria a oportunidade de assistir a outro concerto do trio e pensativo a respeito da música, da destreza técnica que aquele que se diz jazzista precisa desenvolver, da improvisação enquanto estado de fluxo de uma expressividade irrefletida e anímica e de como o jazz é em grande medida a arte de se colocar constantemente em xeque.
Na última segunda-feira (03/07/2023), na Sala Suggia da Casa da Música, na cidade do Porto (Portugal), tive a oportunidade de reencontrar o Brad Mehldau Trio, agora com aproximadamente dezoito anos de estrada e vários discos editados.
Uma sala com lotação praticamente esgotada recebeu calorosamente os instrumentistas às 21:30 em ponto. O palco estava montado da mesmíssima forma que eu vira em São Paulo. A coesão se assentara com o tempo de forma intuitiva e orgânica, dizia-me à partida o posicionamento do trio. No espaço temporal surgido após os aplausos e o silêncio concentrado que precede o concerto, Mehldau ergue um ostinato em 7/8. Alguns compassos depois, a bateria e o contrabaixo se juntam e estabilizam o andamento para o pianista, então, apresentar o tema e o combo instituir a forma: “Got Me Wrong”, releitura da música da banda grunge Alice in Chains; a mesma canção, por sinal, que o trio usou na abertura de seu disco Where Do You Start (2015). A interpretação é muito particular e figura na geografia do que será o concerto como marco inicial do imenso arco a ser coberto pelo repertório do trio.
Na sequência, apresentam uma composição de Mehldau, até onde sei ainda não editada, intitulada “Solid Jackson”, um tributo a seu mentor Charlie Haden.
E é aqui que as coisas começam a ficar mesmo interessantes. O tema é exposto de modo bastante livre, aberto, com os músicos tocando ad lib como eu nunca os tinha ouvido tocar antes enquanto trio. O combo canaliza um impulso criativo nascido do blues e o deixa tomar forma espontaneamente, cada qual maneando livremente seus doze compassos, os acordes dominantes alicerçadores de sua arquitetura e o ritmo que o organiza. Jeff Ballard executa quase um “anti-andamento”, Larry Grenadier ponteia esparsamente uma linha e Brad Mehldau toca a melodia como se fosse regido por outras forças e leis internas. Tudo flutua. Após algum tempo, a forma se adensa, fica mais palpável e só aí o trio estabelece o swing e abre espaço para as improvisações. Uma verdadeira masterclass de jazz, improvisação, dinâmica e interplay.
Parafraseando um comentário de Bill Frisell sobre o Miles Davis Quintet no álbum My Funny Valentine: “não me parecia humanamente possível que Brad Mehldau e seu combo tocassem nesse nível”.
O concerto segue com uma incursão aos trabalhos prévios do trio de Mehldau. “Unrequited”, tema do pianista encontrado em Songs: Art of the Trio Vol. 3 (1998), um disco de grande fortuna crítica, dá seguimento ao programa e denota uma inteligência musical presente, inclusive, na construção narrativa do repertório. Como um velho conhecido há muito não visto, a composição levanta parte do público que se sentiu afortunada por escutar esse “clássico” do songbook de Mehldau. Depois, o trio regressa ainda mais no tempo para tocar em double-time swing “From This Moment On”, de Cole Porter, standard cuja releitura está em seu álbum de estreia Introducing Brad Mehldau (1995). Uma prova de cem metros rasos muito ao gosto dos bebopers.
Em contraponto, o combo medita sob a calmaria da balada “This Foolish Things (Remind Me Of You)”, uma música gravada por gigantes do jazz, de Ella Fitzgerald e Louis Armstrong a Lester Young e Thelonious Monk, que foi registrada pelo Brad Mehldau Trio no morno Blues and Ballads (2016), mas que na Casa da Música transmuta-se num exercício de lirismo e contemplação por um experimentado grupo. Houve ainda tempo para mais uma composição autoral e, penso, igualmente não editada, cujo título não captei ao certo (apenas o “Green”).
Era, contudo, um tema em andamento moderado no compasso 5/4 em que a melodia se distribuía entre os instrumentos e a progressão harmônica ficava subjacente enquanto as improvisações aconteciam.
Como de se esperar, houve bis. Não apenas um, mas dois. O que surpreendeu, e não apenas a mim a julgar pela reação da plateia, foi Brad Mehldau ter “tirado da cartola” “My Favorite Things” numa abordagem que de alguma forma dialogava com sua versão solo encontrada no disco Live in Marciac (2011). O que leva a plateia ao delírio – um delírio tanto recalcado, diga-se, e autorizado na medida de sua compatibilidade com o senso de decoro que grandes salas de concerto comportam. Mais do que um clássico, esse standard sacralizado por John Coltrane e, paradoxalmente, tão profanado nos salões de sofisticadas churrascarias e outros ambientes “finos” (aspas obrigatórias, como diz o Igor Gielow) foi tratado pelo trio com a sensibilidade, o respeito e o entendimento dignos dos grandes mestres. É preciso muita vivência e domínio do jazz enquanto linguagem para não apenas não vulgarizar esse tema em pastiche como dar-lhe sentido e profundidade, acrescentando-lhe algo realmente novo, genuinamente improvisado e condizente com nosso tempo histórico.
Com o jogo ganho, o Brad Mehldau Trio encerra a noite com, isto sim, um standard “lado C”: “Beatrice”, composição do monumental saxofonista Sam Rivers, um músico de músicos, mentor de ninguém menos do que Tony Williams e o responsável por mudar a sonoridade do Miles Davis Quintet no interregno entre a saída de George Coleman e a chegada de Wayne Shorter (escute Miles in Tokyo e verás o que estou a dizer). A abordagem estabelece vínculos com a versão documentada no último disco do trio, Seymour Reads the Constitution! (2018). Ou seja, é mais branda se comparada à versão original de Rivers inserta no seu álbum de estreia Fuchsia Swing Song (1964), foca nas possibilidades improvisativas da progressão harmônica, no poder de swing da seção rítmica e nos esquemas estabelecidos na tradição jazzística, como o chamado e resposta. Contudo, o altíssimo nível dos músicos, a riqueza do material temático em si e a interpretação a anos-luz de clichês asseguram o remate perfeito de um concerto abrangente e irretocável.
Saí da Casa da Música entre o absorto e o extático, ainda impactado pelos efeitos de presença do Brad Mehldau Trio em ação bem diante de meus olhos. Resolvidas as reflexões de outrora, desta vez pude me concentrar nos ecos que ainda pairavam sobre minha cabeça do evento fugaz que acabara de testemunhar. Afinal, um concerto não deixa de ser uma forma de ritual, uma técnica simbólica de encasamento que faz o tempo tornar-se habitável (1). E neste mundo regido por algoritmos e alienado em bolhas digitais, penso que ter uma experiência estética dessa magnitude é quase uma benção.
(1) HAN, Byung-Chul (2021). O desaparecimento dos rituais. Uma topologia do presente. Petrópolis: Editora Vozes, págs. 10-11.